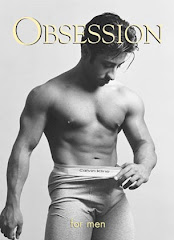Georg Hegel, 1820 e poucos
Ave de rapina em vôo rasante sobre tópicos irrelevantes
Georg Hegel, 1820 e poucos


Num certo limbo que demarca a fronteira entre ficção e memória, imerso num clima de filmes baratos de terror, se situa o universo esquizo-mutante e sombrio de Charles Burns (1955, Washington DC, EUA). Mas essa pode ser uma maneira um tanto simplória de apresentar o trabalho deste genial e diferenciado artista gráfico das HQs; para ilustrar (ou confundir) melhor, talvez se possa ter uma impressão mais abrangente das peculiaridades de sua obra se buscarmos um paralelo no cinema: imagine-se então um caldeirão de referências com diretores como Ed Woods, David Lynch, Russ Meyer, David Cronenberg e John Waters. Cada um à sua maneira, desenvolveram uma abordagem particular e imprimiram sua marca nos segmentos cinematográficos em que atuam; e mais que isso, nos filmes de todos esses caras se percebe um certo clima de estranhamento - em graus diversos - que também está presente nas criações de Burns.
Suas histórias, que começaram a chamar atenção nas páginas da lendária publicação de HQ-cabeça RAW (convidado pelo próprio Art 'Maus' Spiegelman, que coordenava a revista), na New York do início dos anos 80, são recheadas de clichês do mundo dos quadrinhos – garotos espertos, cientistas sinistros, detetives durões, sexualidade e luxúria adolescente e horror no estilo da mítica e saudosa editora EC Comics -, mas rearranjados num inquietante e nervosamente divertido padrão. Dessa trama de iconografias relativamente familiares surgem referências a arquétipos e traumas reais da infância, de perda, culpa e de alienação; no entanto, o horror parece estar sempre à espreita, dando a tônica. Burns associa uma estética 'gelada' e de alta sofisticação gráfica a um visual relativamente convencional dos comics, sublinhando a artificialidade do que tendemos a considerar 'normal', gerando assim um interessante estranhamento.
Em 1994, deu início à empreitada mais ambiciosa de sua carreira: a série Black Hole. Estimado para 14 edições, esse conto de horror moderno tem seu eixo principal numa espécie de praga que se transmite sexualmente entre adolescentes. Semi-autobiográfica, BH se passa em Seattle, onde Burns cresceu, em meados dos anos 70. Inicialmente publicada pela Kitchen Sink Press, uma das principais editoras da cena de HQ independente/alternativa nos EUA, a série foi transferida, em 1998 (na altura do n. 5) para a também influente Fantagraphics pelo próprio autor. Desde sua estréia, BH tem sido indicada anualmente para o Eisner e o Harvey Awards, principais prêmios da área de HQ, e ainda não finalizada, foi incluída no Top 100 Comics of the Century do respeitado The Comics Journal. Em 1999, a mesma Fantagraphics começou uma empreitada ambiciosa (e bem-vinda): as obras completas de Charles Burns. Pensada para 5 volumes em brochura - começando por El Borbah e Big Baby, algumas de suas primeiras séries regulares -, esse projeto irá reunir toda a sua produção até Black Hole.
Burns vive hoje na Filadélfia com sua mulher, a pintora Susan Moore, e suas duas filhas pequenas. E mantendo o clichê, o cara é uma figura jovial e pé-no-chão, ao contrário do que suas histórias possam sugerir. Evita entrar em escrutínios sobre sua produção, preferindo que os leitores mergulhem em sua sedutora e perturbadora obra por si mesmos – o que não se garante é que saiam ilesos.




The Web's Original Travel Blog.