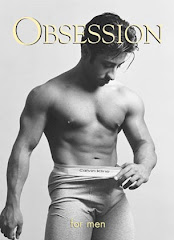19.12.08
21.11.08
Sobre a 28ª. Bienal ou "O buraco é mais em cima" [por Guy Amado]
Pelo menos ao longo das duas últimas décadas, a cada edição da Bienal Internacional de São Paulo a situação se repete: discussões acaloradas, críticas e mesmo polêmicas afloram a partir da definição da curadoria e do mote conceitual a ser desenvolvido no evento. O próprio formato "temático" como tradicionalmente norteando nossas Bienais colabora nesse processo: afinal, verdade seja dita, quaisquer que sejam as idéias ou abordagens propostas pela curadoria, tenderão já de saída a serem atacadas. Para cada questionamento há uma expectativa a ser contemplada: representatividade nacional e internacional, coerência e/ou pertinência da proposta curatorial - e até que ponto esta se verifica ou se cumpre -, o papel da Bienal na formação do público e o estatuto da audiência no evento, etc.
Como não podia deixar de ser, desde o anúncio confirmando a realização da 28ª Bienal de São Paulo 2008, feito em final do ano passado, com Ivo Mesquita aceitando encampar a empreitada com pouca verba e menos de um ano para realizá-la, muito se especulou a respeito. Sob o mote "Em vivo contato", a plataforma curatorial de Ivo pautou-se prioritariamente em oferecer uma reflexão sobre a propalada "crise" do modelo bienais de arte como um todo, bem como propor um debate acerca da Bienal de São Paulo em si, visando fazer com que esta "reencontre sua especificidade" e a "coloque novamente 'em vivo contato' com seu tempo" [seja lá o que isso signifique]. Para tal, seu projeto prevê não apenas a situação expositiva - ostensivamente árida, ou amortecida, em relação às anteriores, mesmo à última - mas ainda diversos outros produtos: ciclos de conferências e mesas-redondas, eventos musicais/performáticos, uma publicação regular em formato de jornal popular de grande circulação, além do "núcleo biblioteca" instalado no 3º. piso. Todos buscando expandir os horizontes de reflexão em torno do evento; sua vocação, estatuto atual e perspectivas de continuidade.
Assim que veio a público a proposta de manter um ou mais pavimentos do prédio sem obras de arte, num gesto de tensionamento simbólico daquele local [de sua história, importância ao longo do tempo e sobretudo, quero acreditar, das condições atuais de funcionamento], iniciou-se uma série de pseudo-querelas, com artistas, teóricos e outros agentes do meio disparando uma saraivada de críticas em torno de um projeto do qual pouco se sabia. Ou se podia "visualizar". A maior parte da indignação mirou o anunciado "vazio" de forma francamente superficial, numa onda de protestos cuja tônica se mantinha não raro no nível de um ressentimento algo corporativista e provinciano, na linha do "que absurdo, um andar da Bienal ficar vazio com tantos artistas de qualidade que poderiam estar ali". E me refiro a personagens de renome do meio artístico, que chegaram a elaborar ou endossar manifestos e abaixo-assinados eletrônicos em repúdio ao projeto de Ivo [o que aliás me leva a indagar por que não se vê tanta energia e potencial mobilizatório, nesse meio, canalizado para propor ações e protestos similares tão ou mais urgentes, como é o caso do Masp, o maior museu da América Latina e "semi-abandonado em público" há tempos. Mas essa é outra questão].
Poucos se dispuseram a perceber e discutir – e problematizar - em profundidade o potencial simbólico embutido na proposta, a saber a expectativa de que a instauração do referido "vazio" naquele prédio e naquele contexto pudesse, ou possa, gerar uma reflexão efetiva acerca da instituição Fundação Bienal, esse sim possivelmente o maior vazio a ser ali questionado. O segundo pavimento está de fato desocupado, ou expondo sua "planta livre", para adotar a terminologia do vocabulário arquitetônico modernista recuperada aparentemente em cima da hora pela curadoria. Um "vazio" que, diga-se de passagem, não é nem pode ser "obra de arte"; apesar de se afirmar como um gesto autoral, mesmo "autoritário" para uns, da curadoria, não está ali para ser lido como instalação artística.
Mas para além da, digamos, experiência de "fisicalidade alternativa" ou do impacto visual que o ato de imersão neste vazio possa realmente suscitar, é sua potência metafórica o fator a supostamente ser destacado, apontando para um outro vazio, e que os mais dispostos e informados podem localizar logo acima, no terceiro piso. E não na área expositiva [de desenho museográfico especialmente árido nessa edição, o que sem dúvida foi planejado e deve se afinar ao projeto curatorial; mas que por outro lado compromete, ou "achata" excessivamente o corpo-a-corpo com os trabalhos. Se essa solução estabelece uma espécie de des-hierarquização visual entre obras e artistas, também determina certo desconforto nas relações espaciais entre os mesmos], mas nas dependências usadas pela presidência e conselho que administram a Fundação Bienal. Uma administração que vem se provando seguidamente ineficaz em apresentar algo próximo de um programa de gestão efetivo e seqüenciado, que impeça que a cada edição do evento tenha que se reinventar a roda para garantir sua subsistência e a realização da próxima Bienal. Uma administração cujo conselho deliberativo, não custa lembrar, por muito pouco não reelegeu Edemar Cid Ferreira para seus quadros quando este estava na cadeia, em sua infelizmente breve temporada sob custódia do Estado em 2006, respondendo a uma lista de acusações que tomariam o resto do parágrafo. Chega a ser incompreensível, além de deprimente, que aquela que se gosta de considerar "a segunda mais importante Bienal de arte do mundo" [abstraindo todo o relativismo que esse epíteto possa implicar na atualidade] tenha sua sobrevida perpetuada a partir de uma dinâmica tão precária, marcada pelo improviso, parcerias institucionais episódicas e acordos políticos emergenciais para obtenção de verba.
Uma leitura mais adequada do esvaziamento ou não-ocupação do segundo piso talvez fosse assim a de uma suspensão. E não a suspensão da percepção, antes pelo contrário: é a partir da ausência de quaisquer 'estímulos visuais' convencionais alheios à arquitetura nua num evento do tipo [a saber, trabalhos de arte] que se pode talvez enxergar além, ou perceber melhor a capacidade de ruído que este silêncio convoca. E aíde fato não entendo o porquê da curadoria insistir em "dourar a pílula do vazio", agregando discursos da arquitetura e de uma "experiência de imersão" àquele vazio, ao invés de deixar que este fale por si.
O que é de se lamentar em boa parte do que se vê de ataques e críticas negativas a essa Bienal na grande mídia, por especialistas ou pessoas não tão familiarizadas com as idiossincrasias do meio da arte contemporânea, é a tônica em se questionar apenas a superfície. Ou seja, a tendência em se emitir opiniões e juízos inflamados a respeito do "vazio" ou da "aridez expositiva" sem se buscar atingir o ponto que deveria ser realmente abordado, a saber a Bienal de São Paulo em si, ou antes a Fundação por trás do evento. Pela singularidade de seu projeto curatorial, com seus méritos e defeitos [a potência do agenciamento simbólico embutido na proposta e a dificuldade em se verificar objetivamente o alcance ou o sucesso de seus postulados], esta não me parece ser uma Bienal a ser lida, analisada ou comentada na mesma chave que nos habituamos a adotar nas anteriores. Qual o sentido em se lamentar a ausência de obras no 2º andar se isso estava previsto desde a concepção do evento? Alguma "surpresa" nisso? Ou de atacar a montagem das obras expostas no terceiro piso desconsiderando a óbvia intencionalidade de unidade orgânica do projeto museográfico, certamente problemática mas igualmente planejada? Há sem dúvida diversos aspectos a serem questionados neste evento, sobretudo no que tange a certa ambivalência conceitual entre seu discurso e objetivos e possibilidades reais de consumá-los; mas, se é assim, que ao menos as pessoas se disponham a atacá-la com procedência, obrigando-se a familiarizar-se minimamente com os postulados da curadoria.
Contingência X perda de potência
O que nos leva a um ponto que me parece altamente relevante: até que ponto se cumprem, ou podem se cumprir, os objetivos algo quixotescos aventados no mote curatorial? E até que ponto estes seriam passíveis de ser mensurados? Claro que em se tratando da matéria "curadoria de uma Bienal de arte contemporânea" - e não abordando diretamente a questão mercantil, cada vez mais incomodamente indissociada de eventos deste porte e perfil - não se pode falar de eficácia em termos objetivos; seria mesmo algo ingênuo supor que se pudesse ter ao alcance das mãos uma planilha de resultados nesse caso. A meu ver, um grave empecilho nesse sentido é a convergência de fatores contingenciais minando potencialmente a força de tal projeto. Ou seja, constatar que por mais legítima, pertinente e relevante seja a proposta de Ivo, esta se presta perfeitamente, gostemos ou não de admitir, a suprir as demandas "pouco tempo + pouco dinheiro" já conhecidas de antemão. E que, para efeito institucional [leia-se Fundação Bienal] e de repercussão midiática, alimenta ou reforça posturas e discursos na linha "vejam, apesar das adversidades, realizou-se/realizamos a Bienal". Tenho minhas dúvidas se essa empreitada de Ivo Mesquita – que, ressalte-se, talvez mais que ninguém neste país merecesse poder conceber e realizar uma Bienal com prazo e recursos dignos, dada sua competência e notória relação profissional e afetiva com a mesma, culminando drasticamente na Bienal que tiraram de suas mãos há alguns anos numa operação política -, para além de "pôr em xeque" a instituição, não colabora involuntariamente na perpetuação de um regime de sobrevida marcado pela inoperância de seus supostos gestores. Chego a sugerir, de modo algo pueril e pouco propositivo, que "vazio por vazio", talvez a não-realização da 28ª Bienal este ano fosse mais eficiente. Quem sabe mais um hiato de quatro anos [o último ocorreu entre 1998-2002] não estimulasse uma reflexão mais candente sobre tal vazio... realmente não sei. Por outro lado, reconheço que o debate foi lançado; aguardemos os acontecimentos, até porque o evento segue ainda em curso, com sua plataforma orgânica de estratégias e iniciativas extra-expositivas de ativação da reflexão, para verificar a real extensão de sua potência conceitual. E qualquer que esta se dê a ver, que ao menos vá além do diagnóstico, já anteriormente conhecido.
Seja como for, o vazio, ou o buraco, parece ser mais em cima.
Guy Amado
21.7.08
"Se vende-se"



19.2.08
"Under Siege" - O outro lado da moeda
 Under Siege é um game de tiro "diferente". Não exatamente original na aparência ou jogabilidade, idênticas à maioria dos populares fps [jogos de tiro em primeira pessoa], mas na premissa em ambientar sua narrativa bélica, centrada nos eternos conflitos Israel-Palestina, sob a perspectiva dos que tendem a ser sempre retratados como "vilões" em games correlatos: os palestinos.
Under Siege é um game de tiro "diferente". Não exatamente original na aparência ou jogabilidade, idênticas à maioria dos populares fps [jogos de tiro em primeira pessoa], mas na premissa em ambientar sua narrativa bélica, centrada nos eternos conflitos Israel-Palestina, sob a perspectiva dos que tendem a ser sempre retratados como "vilões" em games correlatos: os palestinos. Under Siege é centrado em eventos recentes na história da Palestina, focando as vidas de famílias palestinas entre 1999 e 2002, durante a segunda Intifada, e suas estratégias de resistência à presença opressiva do inimigo israelita em seu cotidiano. Todos os níveis do jogo são baseados em episódios reais. O conteúdo é inspirado em fatos reais ocorridos na Faixa de Gaza e outros territórios ocupados narrados por palestinos e documentados pela ONU [no período de 1978a 2004]. Uma versão demo do game pode ser baixada no link www.underash.net/en_download.htm
Under Siege é centrado em eventos recentes na história da Palestina, focando as vidas de famílias palestinas entre 1999 e 2002, durante a segunda Intifada, e suas estratégias de resistência à presença opressiva do inimigo israelita em seu cotidiano. Todos os níveis do jogo são baseados em episódios reais. O conteúdo é inspirado em fatos reais ocorridos na Faixa de Gaza e outros territórios ocupados narrados por palestinos e documentados pela ONU [no período de 1978a 2004]. Uma versão demo do game pode ser baixada no link www.underash.net/en_download.htmP.S.: Há um outro game similar, mais recente, interessante e bem mais sofisticado, "SpecialForce2" - mas esse é dificílimo de se conseguir. Deixo aqui o link para o site, ainda pouco operacional: www.specialforce2.org/english/index.htm
27.1.08
"GRIFFITI" ou a Transgressão Domesticada *
 O graffiti já há muito se consolidou como linguagem visual absolutamente imiscuída no panorama metropolitano, tendo mesmo se tornado um elemento indissociado deste contexto. Muros, prédios ou monumentos em todo canto carregam, em soluções e expressões diversas, a miríade de imagens, signos gráficos e códigos que caracteriza este sistema, sempre em acirrada competição com a profusão de estímulos visuais que conformam a experiência de se viver em grandes cidades.
O graffiti já há muito se consolidou como linguagem visual absolutamente imiscuída no panorama metropolitano, tendo mesmo se tornado um elemento indissociado deste contexto. Muros, prédios ou monumentos em todo canto carregam, em soluções e expressões diversas, a miríade de imagens, signos gráficos e códigos que caracteriza este sistema, sempre em acirrada competição com a profusão de estímulos visuais que conformam a experiência de se viver em grandes cidades. Sobre o amplo espectro de manifestações visuais abarcadas pelo graffiti – daquelas vinculadas à afirmação identitária de guetos a experimentações gráficas em escala urbana - paira, no entanto, um elemento aglutinador e determinante para os anseios geradores desta modalidade de expressão desde seus primórdios: o impulso central calcado na idéia de transgressão, força motriz para sua prática e disseminação. Essa orientação se vê em larga medida tributária da idéia geral do graffiti como uma atividade simbólica praticada por segmentos ditos "periféricos" da sociedade, geralmente representados no registro do estereótipo [vândalos, desocupados]. Sob essa perspectiva, estas manifestações configurar-se-iam como transgressão de um código cultural que é estranho ou inacessível aos protagonistas da ação, que vêem nessa atividade uma forma de inscrever seus próprios signos na cidade. Esta pulsão contraveniente - ainda que atualmente já aponte alguns sinais de desgaste ou obsolescência – se consumaria, desse modo, como um canal de "resposta" daqueles segmentos sociais, sendo aplicada diretamente sobre seu suporte mais natural, a paisagem urbana.
Isto posto em pauta, chama a atenção, portanto, o recente - e gradualmente ostensivo - fenômeno de cooptação do graffiti por mecanismos da esfera institucional e de mainstream que vêm tendo lugar; há vários indícios que explicitam esta movimentação. Uma das facetas deste processo é percebida, por exemplo, quando esta linguagem é associada a produtos tão díspares e improváveis quanto marcas de cervejas [campanhas publicitárias em outdoors e painéis que tomam toda uma face de edifícios, executados em graffiti, supostamente visando assim uma “maior aproximação junto ao público jovem”] e sofisticadas grifes de jeans [nesse caso literalmente aderido ao produto final como diferencial cool]. O underground tem então seu código estético próprio remanejado e re-trabalhado pela indústria publicitária, num peculiar processo de apropriação do subversivo.
De outra natureza, mas ainda mais significativo e emblemático dessa nova dinâmica foi um caso observado há coisa de um ano, quando uma agência bancária locada à Av. Paulista protagonizou uma demonstração cabal e inequívoca desta tendência, ao encomendar a grafiteiros a “redecoração” de seu prédio. No espírito de uma recente tradição – fundada pelo mesmo banco - de investir ostensivamente no visual externo de sua sede [sobretudo por ocasião das festividades natalinas], a instituição teve em pouco tempo toda a sua fachada coberta por coloridas e bem-comportadas intervenções. Resultou então uma pintura-grafitagem efetuada num registro ainda próximo ao do graffiti tradicional, mas de feições anódinas e transparecendo franca artificialidade, em sua fisionomia excessivamente rebuscada, denotando um sensível descompasso em relação à visceralidade do código original da linguagem, caracteristicamente mais "seco" e despojado [em muito devido ao caráter fugaz de sua execução, muitas vezes levada a cabo em ações furtivas]. Compreensível: afinal, o sofisticado cliente daquele banco de perfil exclusivo poderia rever seus conceitos sobre a instituição, caso se sentisse em alguma medida “agredido” por aqueles grafismos. Para além da superfície, no entanto, cabe aqui notar o peculiar processo de domesticação sofrido por uma linguagem essencialmente imbuída de um espírito transgressor - que se efetivaria sobretudo quando “proibida”, ou minimamente não desejada -, agora travestida em plataforma institucional, servindo aos interesses de nada menos que uma corporação financeira internacional.
Em medida diversa de, digamos, teor ideológico, outra destas curiosas cooptações recentes do graffiti a ser comentada é o caso da ambiciosa empreitada “Modernistas na Paulista”, instalada em tradicional reduto paulistano de grafiteiros, o túnel ao final da mesma avenida. A iniciativa, capitaneada pela ONG/projeto Revolucionarte [fruto de parceria entre a secretaria de subprefeituras da capital e os CEUs] e pretensamente visando a “profissionalização de pichadores e grafiteiros[1]” via aprendizagem da “pintura artística de aerografia” [ou graffiti executado com aerógrafo], adota como premissa “utilizar espaços públicos como telas de pintura” e de quebra constituir assim “formas de preservação de patrimônio público contra a depredação”[!].
 SSem me debruçar mais detidamente sobre a eventual procedência dessas declarações, basta dizer que esta auto-denominada “homenagem aos artistas do movimento modernista no Brasil”, consiste exatamente na transposição, para muros - à maneira de fac-símiles agigantados, distorcidos e algo inusitados - de obras emblemáticas de renomados personagens daquela seara, como Portinari, Tarsila, Segall e Di Cavalcanti. No âmago do projeto parece estar o esforço em se levar compulsoriamente “a arte” para as ruas [e é sintomático, embora não surpreendente, que a escolha do repertório tenha se atido justamente à produção dita “modernista” brasileira, mas essa é outra discussão]; causa que, levianamente amparada numa espécie de senso comum, parece prescindir de qualquer instância de julgamento ético ou moral, dada a “nobreza de princípios” que traz a priori em seu bojo. Algo como “se a massa não pode ir ao museu, levamos o museu até a massa”.
SSem me debruçar mais detidamente sobre a eventual procedência dessas declarações, basta dizer que esta auto-denominada “homenagem aos artistas do movimento modernista no Brasil”, consiste exatamente na transposição, para muros - à maneira de fac-símiles agigantados, distorcidos e algo inusitados - de obras emblemáticas de renomados personagens daquela seara, como Portinari, Tarsila, Segall e Di Cavalcanti. No âmago do projeto parece estar o esforço em se levar compulsoriamente “a arte” para as ruas [e é sintomático, embora não surpreendente, que a escolha do repertório tenha se atido justamente à produção dita “modernista” brasileira, mas essa é outra discussão]; causa que, levianamente amparada numa espécie de senso comum, parece prescindir de qualquer instância de julgamento ético ou moral, dada a “nobreza de princípios” que traz a priori em seu bojo. Algo como “se a massa não pode ir ao museu, levamos o museu até a massa”.
Abstraídos o intuito edificante e o grau de encantamento rasteiro que este projeto pode de fato suscitar frente a uma boa parcela da população [“agora sim isso aqui ficou bonito”, confessou-me um taxista], cabe uma reflexão sobre a real pertinência em se alimentar iniciativas deste perfil. Afinal, não é preciso muito esforço para entrever, para além das alegadas boas intenções da empreitada, uma faceta algo perversa no que se refere às instâncias veladas de incorporação e subseqüente deturpação da linguagem-base utilizada nos propósitos do projeto [pois agora certamente não se trata mais de graffiti; uma categorização possível para o híbrido resultado final se aproximaria mais da pintura mural]. Como se fosse dito aos grafiteiros, “vejam, trabalhando nesse código específico vocês terão sua produção não apenas legitimada oficialmente como efetivamente apreciada, podendo até, quem sabe, ser vistos realmente como artistas” – não importando que ao final a coisa se configure num híbrido. Em outras palavras, como se para o graffiti ser socialmente “aceito” fosse preciso que se dobrasse a determinados preceitos e convenções – o que implica bater de chofre com suas próprias premissas. Ao fim das contas acerta-se assim dois coelhos de uma só cajadada, aliando-se um discurso de inclusão social [por meio do aprendizado da técnica pelos jovens participantes e o aceno a uma suposta perspectiva profissionalizante] a uma iniciativa – presente ainda em outros pontos da capital paulista - que parece em boa medida se articular ao projeto de “deselitização e democratização da arte” tão ao gosto da política de tons populistas adotada pelo atual governo para a arte e a cultura no país.
Há mais de trinta anos, em 1970, Cildo Meireles realizava sua pontual série Inserções em circuitos ideológicos, onde adotava como mote estratégico a infiltração nas engrenagens do sistema para então, valendo-se do fluxo natural de circulação deste mesmo sistema, produzir um deslocamento simbólico e atingir um maior grau de efetiva funcionalidade e contundência para suas propostas [que buscavam insuflar um sentimento de resistência ou ao menos incitar a reflexão acerca do contexto de opressão política que vigorava à época]. Se contraposto a este exemplo, as instâncias de cooptação por forças de mercado – quando não políticas - por que vem passando o graffiti poderiam ser percebidas como uma versão distorcida da mesma estratégia, agora trabalhada numa polaridade inversa: o mainstream vê numa expressão relativamente marginalizada uma qualidade latente para a promoção de seu leque de interesses – como o próprio apelo de uma transgressão potencialmente manipulável - e desenvolve mecanismos para a absorver e explorar – despindo-a neste processo de sua essência. Se o procedimento não chega a ser de todo novo, a dimensão simbólica agora envolvida pontua tragicamente a lógica inexorável do capital, que tudo engole. Que venha, pois, o griffiti – a "subversão com grife".
7.1.08
Surfando o sublime

O SUBLIME NO EXTREMO
O que pode ser mostrado não deve ser dito, já afirmava Wittgenstein em seu Tractatus. Mas há aquilo que, ainda que se apresente aos olhos, segue se ressentindo de uma instância de qualificação para além das que a linguagem escrita ou falada podem propiciar. E é nessa categoria um tanto imprecisa que proponho alocar algo inusitadamente a prática do extreme surf, ou surfe de ondas gigantes. Antes de tudo, é preciso abandonar a concepção genérica de surfe que se tende a ter em mente: estamos falando de uma modalidade à parte, que rompe com os parâmetros usuais quando se pensa nesse esporte. Trata-se de uma atividade que extrapola em muito os limites convencionais envolvidos no ato de deslizar sobre ondas; grosseiramente, consistiria antes numa experiência de sobreviver ao ato de desafiar ondas de mais de 20, 25 metros. Uma experiência-limite por excelência.
A febre de "caçadores de ondas gigantes" é um fenômeno relativamente recente no cenário do surfe: apenas nos últimos 12 anos, num cálculo aproximado, passou a ser difundido e observado com mais regularidade. Impelidos por uma pulsão em buscar novos limites, inserir um "algo mais" em sua atividade rotineira, alguns big riders - surfistas especializados em ondas grandes, geralmente mais maduros –, perceberam a possibilidade de, amparados por softwares desenvolvidos especialmente para este fim, prever e localizar condições extremas de swell [conjunção de fatores naturais que regem a prática do surfe, basicamente vento e ondulação], não raro em mar aberto, longe da costa. Aos poucos foram sendo introduzidas novas técnicas à prática deste novo surfe, como a utilização de jet-skis para lançar o surfista na onda ainda em formação – pois são grandes demais para serem "remadas" convencionalmente –, além de resgatá-lo em caso de queda, e pranchas especiais, maiores, mais estáveis e às quais são atados os pés do surfista. O que se tem então é uma combinação única de equipamentos especiais, homens diferenciados, com treinamento específico [físico e mental] para encarar condições extremas de mar e ondas enormes, não raro com mais de 20 metros de face. As ondulações mais famosas do gênero localizam-se no litoral da baixa Califórnia [a impressionante "Cortez Banks", onda oceânica, e "Mavericks"] e no Havaí ["Jaws"], além de outros pontos mundo afora, ainda não completamente "oficializados". Quando se está sobre um desses monstros, é quase como se não fosse mais água, mas uma massa apenas tecnicamente líquida, com a potência de dezenas de toneladas por metro cúbico. Um moedor de carne em potencial. Um lapso de equilíbrio, um erro de cálculo, e isso pode acarretar conseqüências drásticas. Se não pelo impacto, pelo risco de afogamento - nos últimos dez anos, pelo menos três experientes surfistas perderam a vida em vagalhões deste calibre no Havaí e na Califórnia. Um esporte para poucos, enfim.

Mas para além dos aspectos inerentemente desafiadores do extreme surf, é possível entrever também um componente potencialmente estético envolvido nessa prática. Quando se vê um desses surfistas em ação, sua pequena figura traçando linhas incertas sobre a monumental superfície aquosa que a todo momento parece prestes a engoli-lo – o que eventualmente acontece – é difícil permanecer incólume: o observador, esteja ele familiarizado ou não com este universo imagético, é acometido por um sentimento arrebatador, da ordem do deslumbramento. Deslumbramento que mantém uma aproximação mais e menos direta com a categoria do sublime - conceito da teoria estética longe de comportar uma acepção definida ou estanque, é verdade -, em suas diversas chaves interpretativas possíveis; aqui, poderia se pensar no viés da harmonia procurada, por exemplo, "aquela que se busca alcançar", atrelada à concepção de experiência puramente subjetiva, "daquilo que é absolutamente grande", como sustentava Kant [em sua Crítica do Juízo]: uma experiência que remete a algo além da esfera do sensível, uma representação de difícil tradução [visual ou não] objetiva. Kant via ainda na experiência do sublime a realização das mais elevadas capacidades do ser humano, em que a potência do real contida na contemplação estética é experimentada como uma instância de afirmação prazerosa pelo observador. O filósofo, por sua vez, havia sido influenciado pelas idéias de Edmund Burke, outro pensador referencial na teorização do sublime e para quem sua essência estava relacionada ao infinito e, sobretudo, ao sentimento do terror. Para Burke, "tudo aquilo que serve para, de algum modo, excitar as idéias de dor e perigo [...] ou opera de maneira análoga ao terror, é origem do sublime; ou seja, é causador da mais forte emoção que a mente é capaz de sentir" [em sua Investigação filosófica sobre a origem de nossas idéias do sublime e do belo]. Harmonia, incomensurabilidade, prazer, terror... Mesmo aqui elencados de modo um tanto irresponsável, estes elementos parecem apontar rebatimentos imediatos no domínio do surfe de ondas gigantes.

E a propósito do sublime e sua utilização a serviço de uma proposição que procura qualificar uma modalidade esportiva como um possível ato estético, pode-se somar a esta linha de raciocínio um exemplo tão óbvio quanto adequado na busca por tentar evidenciar estes paralelos: a pintura do alemão Caspar David Friedrich. Uma produção que gradualmente passou a ser apreendida como uma espécie de arquétipo do romantismo, na exarcebação da pequenez humana frente à monumentalidade imperiosa da natureza; e que se mostra investida de um forte sentido de espiritualidade, no afã de expressar o transcendental fora do plano religioso num sentido mais ortodoxo [ainda que se valendo de uma iconografia plena de simbolismos sacros]. Estes e outros atributos [a solidão, a melancolia, etc.] colaboraram para que sua pintura se convertesse, ou assim se tornasse passível de ser interpretada, em uma espécie de "ilustração" do conceito de sublime. E alguns dos aspectos presentes na produção de Friedrich permitem detectar afinidades possíveis com a prática do extreme surf: a escala amplificada na relação homem/natureza, o componente de solitude, a inefável qualidade daquilo que anima e atormenta o espírito humano. Mesmo algumas diferenças essenciais, como a mudança de registro no enfoque da natureza - o ímpeto que, no caso destes surfistas, move o homem a tentar domar forças naturais em sua plenitude se contrapõe frontalmente à atitude de reverente e passiva contemplação característica da obra do pintor germânico – terminam por estabelecer contrapontos que colaboram para reforçar essas aproximações.

O fato é que esta brevíssima digressão pelo território - pantanoso - do sublime se pretendia tão somente uma verificação das possibilidades de reivindicar o estatuto de fenômeno estético para a prática do surfe de ondas gigantes, sugerindo que a teoria estética e a história da arte fornecem subsídios para esta aproximação. Se esta proposição se mostra, contudo, efetivamente consistente à luz destes conceitos, não estou totalmente certo. Só tenho certeza de meu encantamento frente ao extreme surf.
[texto de Guy Blissett A. publicado na revista Numero OITO, setembro de 2006]